Os números de afastamentos crescem pelo 5º ano seguido, custam mais de R$ 3,5 bilhões ao INSS e escancaram crise estrutural no país.


Criar equipes que funcionam de verdade nunca foi tarefa simples. Mas, num mundo cada vez mais individualista, a missão ficou ainda mais complexa. A pandemia, diz o pesquisador Colin M. Fisher, escancarou um limite importante: “somos criaturas sociais, precisamos de interação social – e a pandemia deixou evidente o limite de quão individualistas podemos ser”. O paradoxo, afirma o professor da University College London, é que organizações só prosperam quando a união das pes soas gera algo maior que a soma das partes.
É justamente esse dilema – e as soluções possíveis para enfrentá-lo – que Fisher explora em O Poder Secreto dos Grupos, seu novo livro, lançado no Brasil pela Editora Objetiva. Trompetista profissional, ele começou sua carreira acadêmica estudando improvisação, a fim de entender “como certos grupos de pessoas, às vezes estranhas, podem se unir e criar espontaneamente algo inesperado”. A partir daí, mergulhou em décadas de pesquisa sobre times, descobrindo que bons grupos não surgem por acaso.
Na entrevista a seguir, o professor da UCL School of Management explica o que distingue grupos de equipes, por que o tamanho de cada time importa e como sistemas de incentivo podem sabotar a colaboração. Ele também revela o que líderes e profissionais de RH podem fazer – desde a concepção até o “relançamento” de times – para transformar conexões soltas em equipes que realmente funcionam, além de indicar um disco de jazz que qualquer pessoa pode ouvir para entender o valor da liderança compartilhada.
Se há confiança e há pessoas certas em um grupo, com um objetivo em comum, é possível fazer praticamente qualquer coisa.
É um tema incomum, que encontrei de forma também incomum. Antes de ser professor em uma escola de negócios, eu era um trompetista profissional de jazz. Estudei em um conservatório, me graduei, fui para Nova York e estava tentando fazer minha carreira como músico. Ao mesmo tempo, também estava trabalhando num mestrado – num programa muito interessante, que me deixava estudar qualquer tópico que eu quisesse. Decidi estudar o improviso em diferentes tipos de arte. Comecei a me interessar pela questão sobre como certos grupos de pessoas, às vezes estranhos, podem se unir e criar espontaneamente algo inesperado.
Ou seja: como um grupo improvisa criativamente? Foi o que me levou ao trabalho da psicologia da criatividade, desenvolvido por Teresa Amabile, uma professora da Harvard Business School. Entrei em contato com ela, disse qual era meu interesse e surpreendentemente, Harvard aceitou minha candidatura para um doutorado. Foi o único lugar que me aceitou, na verdade. Quando cheguei lá, conheci Richard Hackman, que além de ser professor, era também um trombonista amador. Nos demos muito bem, porque além da música, seu programa de pesquisa era sobre grupos e liderança. Foi assim que acabei indo parar nesse campo de estudos.
O individualismo já era algo que estava em alta antes da pandemia. Para falar a verdade, nos últimos 100 ou 150 anos, a sociedade está cada vez mais individualista, com as pessoas pensando mais em si mesmas como indivíduos do que como parte de uma família ou comunidade. Isso não acontece só em países individualistas, como os EUA ou o Reino Unido, mas em todo o mundo. Mas, obviamente, a pandemia levou esse pensamento a um pico. Não só nós fomos confrontados por esse pensamento, como também pelas consequências do individualismo – como o fato de que vivemos cada vez mais sozinhos, distantes das nossas famílias e amigos. Também vivemos em lares cada vez menores. Antigamente, vivíamos em casas maiores, com mais crianças, mais pessoas e mais interações intergeracionais.
Hoje, as pessoas não vivem mais suas vidas com base numa vizinhança, uma vez que podemos nos conectar digitalmente com qualquer pessoa. É algo bom, mas que também nos levou a um sentimento de que estamos desconectados daqueles que vivem perto de nós. Somos criaturas sociais, precisamos de interação social, e a pandemia deixou evidente o limite de quão individualistas podemos ser. É claro que há conveniências em trabalhar remotamente, não precisar ir e voltar do escritório todos os dias – especialmente em cidades como São Paulo ou Londres. Já descobrimos que o ir e vir pode ser um grande detrator do bem-estar das pessoas.
Ao mesmo tempo, há custos quando estamos afastados das outras pessoas – e isso pode ser tanto fisicamente quanto mentalmente. Quando isso acontece, é difícil sentir pertencimento. Mais: é possível até experimentar um tipo de solidão que dói tanto quanto a dor física – ao menos, já há pesquisas que sugerem que a parte do cérebro que processa a dor da solidão é a mesma que processa a dor física. Por outro lado, a pandemia não encerrou o individualismo, pelo contrário.
A grande ironia dessa discussão é que as organizações prosperam quando a união das pessoas é maior que a soma das partes. Ou seja: se você só somar a contribuição individual de cada um, sem sinergia, a performance será abaixo do esperado. O que as organizações precisam fazer, portanto, é criar sinergia. Ainda assim, quando contratamos, avaliamos ou promovemos pessoas, pensamos sempre de maneira individual. É raro achar empresas com sistemas sofisticados capazes de entender se uma pessoa trabalhará bem num grupo. E é uma ilusão avaliar as pessoas só na performance individual.
Uma pesquisa de Harvard mediu a “portabilidade” dos resultados de analistas financeiros acima da média. Basicamente, olhamos para o que acontecia com a performance quando uma dessas “estrelas” era contratada por outra empresa. Na maior parte dos casos, a performance caía. Ela só se mantinha em alta quando esse analista financeiro era contratado junto com seu time. É algo que sugere algo profundo sobre a performance organizacional. Não é algo individual, é algo que funciona com grupos e com equipes.
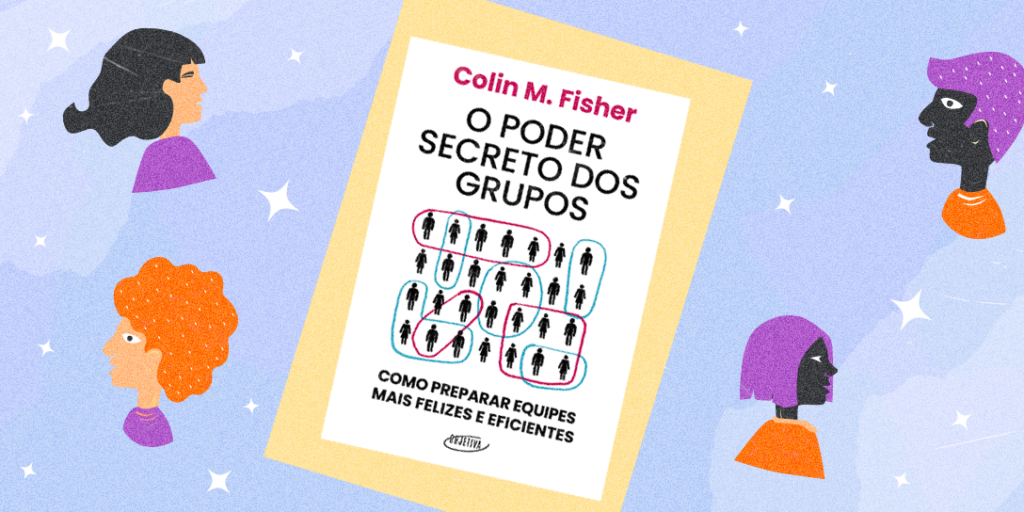
Grupo é um termo bastante amplo, que pode se referir a quase qualquer coisa – uma categoria social, como nacionalidade, religião, raça ou gênero. Já asequipessão times pequenos de pessoas interdependentes trabalhando em torno de um objetivo em comum. Times esportivos são um bom exemplo: no basquete, por exemplo, há cinco pessoas na quadra, que dependem umas das outras e ajustam seu comportamento com base no que as outras fazem. É algo que acontece num grupo de jazz ou num quarteto de cordas. Equipes são um tipo de grupo, mas não são o único tipo. E nas empresas, há uma confusão entre os dois termos, porque as pessoas usam a palavra “equipe” para se referir a “grupos”.
Um grupo de 30 pessoas que trabalham na mesma unidade de negócios não é necessariamente uma equipe. É o que acontece num call center ou em vendas, por exemplo: nessas áreas, cada pessoa tem objetivos individuais e não há interdependência entre as áreas, seja na informação ou no esforço de trabalho. O problema é que não há maneira de fazer um grupo de 30 pessoas ser interdependente, se comunicando entre si. É um grupo muito grande para tomar qualquer decisão coletiva de maneira produtiva.
É um desafio, de fato. O primeiro passo é ligar o tamanho do grupo a tarefas específicas. Quando for necessário criar uma nova estratégia ou tomar uma decisão, queremos que exista na mesa um número de pessoas que vai se parecer mais ou menos com um time de basquete, um grupo de jazz ou um quarteto de cordas. Quando questionadas por pesquisas, as pessoas costumam dizer que o número ideal de pessoas num grupo ideal costuma ficar entre três e sete membros – ou seja, nem tão pequeno, nem tão grande. Outras pesquisas em performance de grupos mostram que as pessoas se sentem melhor quando estão num coletivo de quatro ou cinco pessoas.
É uma sabedoria comum: num jantar, se você quer ter uma conversa significativa com todas as pessoas da mesa, o ideal é ter quatro ou cinco pessoas falando. Com 10, é mais difícil. Com 20, é praticamente impossível. Ou seja: o primeiro passo é definir um objetivo e entender qual é o número mínimo de pessoas que precisam participar para que esse objetivo seja alcançado.
Outro desafio é pensar nos sistemas de incentivo das organizações. Normalmente, os sistemas medem objetivos individuais. Ou seja, quando há um bônus para os melhores, as pessoas vão competir entre si para garantir mais dinheiro. É um elemento naestrutura organizacional que vai contra o trabalho em equipe, que vai fazer com que a colaboração seja muito mais difícil. Além disso, muitas organizações modernas têm algum tipo de estrutura matricial, com funções e projetos. Mas as relações de reporte e liderança não correspondem ao que precisamos para que as pessoas colaborem de verdade, porque ninguém é realmente responsável pelo sucesso dos grupos. Porque todo mundo tem gestores individuais.
Às vezes, as pessoas respondem até a dois ou mais gestores. E isso não funciona porque as pessoas costumam responder aos incentivos naturais do ambiente. Elas querem fazer seus gestores felizes, porque são eles que vão avaliar sua performance. Assim, quando alguém quer aumentar a colaboração numa empresa, é preciso pensar que os times fazem parte de um sistema maior – e se o sistema favorecer as pessoas, a colaboração não vai funcionar.
Minha colega Ruth Waggaman fez uma pesquisa sobre isso há alguns anos. Ela comparou os resultados de performance em empresas com metas individuais, com metas coletivas e com sistemas híbridos. Surpreendentemente, ela descobriu que metas individuais funcionam quase tão bem quanto metas coletivas. Agora, o que não funcionou de verdade é quando as empresas adotam o sistema híbrido. Basicamente, isso faz as pessoas ficarem confusas, porque elas não sabem a quais incentivos devem responder. O que quero dizer é que ter metas e sistemas de incentivos claros – e garantir que eles não atrapalhem diretamente o trabalho em equipe – é provavelmente o maior desafio que eu observo no meu trabalho com organizações.
É uma pergunta complicada. Muitos profissionais de RH têm dúvidas sobre como avaliar e medir a colaboração dentro das equipes. Ao longo dos anos, o que aprendi é que esse trabalho não é difícil, desde que você tenha algum mecanismo que faça as pessoas serem sinceras com você. Podemos saber se uma pessoa está satisfeita com seu grupo se ela também diz que o grupo é coeso, que se comunica bem ou tem outros atributos positivos. Normalmente, essas coisas andam juntas. Se você souber que as pessoas estão felizes ou não com seus grupos, esse dado já é suficiente.
Mas acredito que o melhor trabalho do RH é feito ao garantir que os grupos foram bem concebidos desde o início. Eu e meus colegas descobrimos uma regra valiosa ao discutir a performance dos grupos, que funciona na base do 60-30-10. Na média, 60% da performance dos grupos é moldada pela estrutura do grupo, seus objetivos, composição e quais tarefas o grupo recebe.
Um profissional de RH pode não conseguir direcionar diretamente essas ideias, mas é possível criar boas práticas para distribuir entre a organização – como evitar que um time tenha 15 pessoas e, pior ainda, que todas as reuniões precisem dessas 15 pessoas. O ideal seria fazer com que as pessoas refletissem sobre a natureza de cada time antes mesmo que o time exista. Às vezes, são perguntas fáceis: “será que temos todas as habilidades necessárias para resolver o trabalho dentro do time?”. Mas são coisas que as pessoas esquecem de fazer.
Os outros 30% da performance de um grupo são moldados pelo desempenho do grupo em sua fase inicial. Ou seja: se os objetivos estão bem comunicados, se as regras garantem segurança psicológica para que todos falem, se está claro porque todos estão na equipe e qual é o seu papel. A maior parte dos problemas surge de mal-entendidos no começo das ações, quando assumimos que certas coisas são o que não são.
Conforme o tempo passa, é mais difícil mudar pensamentos enraizados. Como você pode perceber, isso significa que 90% do esforço para a performance de um grupo acontece na estruturação e no lançamento. A ironia é que muitas pessoas precisam lidar com grupos que já existem. Aí é que residem os outros 10% – e pode parecer pouco, mas se você conseguir fazer uma empresa melhorar 10%, já é bastante coisa. Uma das ferramentas que podem ajudar em times já existentes, porém, é fazer uma espécie de relançamento – que busque criar o senso de pertencimento e estratégia que o início de um novo grupo faz.
Para isso, você pode mudar o lugar das reuniões, quem lidera as discussões, ou até mesmo criar reflexões sobre as tarefas que já são feitas para tentar começar de novo. O que não significa, porém, que um profissional de RH deveria gastar 50% do seu tempo fazendo isso. Meu principal conselho, portanto, é investir mais tempo e energia prevenindo problemas em times futuros do que exatamente apagar incêndios em times já existentes. É preciso fazer uma boa análise para entender o que vale a pena e o que não vale a pena, em vez de ficar preso apenas a atividades de resolução de conflitos.
Não – pelo contrário. Mais do que tudo, creio que essa discussão é um problema de tecnologia, da mesma forma que tínhamos conferências que eram apenas por áudio. É claro que não conseguimos fazer tudo a distância, mas podemos fazer muita coisa. E com o tempo, aprendemos também o que funciona melhor em cada meio. Após alguns anos, já temos boas regras para nos ajudar a conseguir realizar nossos objetivos. A verdade é que o problema principal é que as pessoas não sabem bem como fazer reuniões.
Muitas reuniões são usadas pelos líderes para comunicar informações de maneira unilateral – o que é bom para eles, pois economiza tempo ao repetir ideias. Mas esse é um uso terrível das reuniões. Antes de pensar sobre como fazer boas reuniões virtuais, precisamos pensar em como melhorar as reuniões. Perguntas simples como “sabemos porque estamos aqui?” ou “qual é o propósito dessa reunião?” podem ajudar. A resposta sobre a finalidade de uma reunião não deveria só ser saber o que o chefe falou por uma hora, mas também tomar decisões e alcançar objetivos.
Para isso, não importa se a reunião é online ou presencial. Digo mais: reuniões online nos dão a possibilidade de sermos mais efetivos e termos diferentes pessoas envolvidas, com mais expertise, diferentes perspectivas ou conhecimentos que podem ser úteis para alcançar um objetivo. Além disso, as reuniões online permitem conversas, compartilhar telas, trabalhar num documento assincronamente, tarefas que não eram possíveis antes – e oportunidades incríveis. Por outro lado, numa reunião virtual nós perdemos as referências visuais que temos quando estamos numa sala juntos. Mais que isso: numa reunião online, o que acontece é que criamos uma certa psicologia da distância – que faz com que vejamos as pessoas do outro lado da tela não como indivíduos, mas sim como objetos ou ferramentas.
É tarefa dos líderes evitar que isso aconteça: não à toa, muitas empresas já adotam políticas para evitar o uso de fundos de tela, por exemplo, porque isso atrapalha nessa percepção humana. Outras exigem que todas as pessoas falem nas reuniões, ou criem “breakout rooms” para discussões menores. É possível estabelecer regras para evitar esse problema, mas não dá para esperar que uma reunião virtual seja igual a uma reunião presencial.
Na minha visão, porém, as chamadas reuniões híbridas são as mais difíceis de todas. É fácil criar regras quando todos estão ao vivo juntos, ou quando todos estão online. Mas ter diferentes pessoas em cada cenário cria subgrupos e dificulta a comunicação. Para terminar, acho que vale pensar que estamos ainda vivendo uma transição. Precisamos de tempo para aprender e entender como cada formato funciona – e criar regras que façam sentido para cada formato, em vez de só ficar pulando de um meio para o outro conforme pareça mais conveniente.
Acredito que as empresas que conseguirem desestigmatizar o uso de IA terão melhores resultados.
O papel da IA vai depender do tipo de trabalho feito em cada organização – e claro, de como a IA pode colaborar. De maneira geral, não acho que seja bom pensar que uma IA é “como outra pessoa”. IA é uma ferramenta com uma boa interface de usuário, que serve para alguns objetivos e não para outros. As pesquisas já mostram que a IA ajuda pessoas que não escrevem bem a melhorar seus e-mails ou escreverem mais rápido. Isso é bom. O problema é que, em meio a essa adoção rápida, ainda há muito estigma sobre o uso de IA nas organizações.
Toda vez que há uma nova tecnologia, as pessoas costumam compartilhar boas práticas e o avanço costuma acontecer de forma rápida. Mas com IA, as pessoas estão escondendo o seu uso. Assim, não dá para aprender o que dá certo ou não. Acredito que as empresas que conseguirem desestigmatizar o uso de IA terão melhores resultados. Senão, corremos o risco de fazer algo bobo, do tipo usar IA para ler e responder outros e-mails, também escritos por IAs. É uma grande perda de tempo. Se não houver discussões, podemos chegar ao ponto de que o uso de IA pode ser perigoso ou mesmo insensível às pessoas da equipe. Mas se tivermos essas discussões, poderemos melhorar o uso de IA e evoluir rapidamente.
As hierarquias existem por um motivo: elas tornam o trabalho mais previsível. Com elas, sabemos quem é responsável por determinadas tarefas ou decisões. Mas, na média, a maioria das organizações têm mais hierarquia do que precisam. É algo difícil de mexer: ninguém quer “perder” status numa cadeia hierárquica. Nossos cérebros são muito sensíveis à perda de status. Mesmo que seja melhor para uma organização eliminar níveis hierárquicos, sempre haverá algum tipo de resistência das pessoas. É por isso que, ao longo dos anos, as organizações têm cada vez mais títulos.
Conseguir que as pessoas compartilhem o poder e a liderança é um problema complicado, porque requer que quem tenha o poder queira abrir mão de parte dele. As organizações que resolveram esse problema começaram com líderes que perceberam que não podem fazer tudo. Um CEO não pode pensar que precisa tomar todas as decisões. É algo com que todos os líderes são confrontados em algum ponto de suas carreiras. O aspecto surpreendente, que vi em muitas pesquisas, é que empresas que têm liderança compartilhada costumam ter melhor desempenho. Essa liderança pode acontecer de duas formas. Uma é de fato dividir o poder, a responsabilidade e a autoridade sobre os recursos. É algo bom, mas difícil de fazer.
O jeito mais fácil é expandir nossa definição do que significa liderar. Se pensarmos que liderar significa motivar as pessoas para alcançar os objetivos de forma mais fácil, ajudar o grupo, responder perguntas difíceis, é possível compartilhar a liderança. E os grupos que têm mas pessoas fazendo isso costumam ter uma performance melhor. Por isso, acredito que se os líderes formais quiserem melhorar a performance, uma boa forma é encorajar esse tipo de liderança informal – até porque ela também é mais fácil de ser transferida.
É difícil me afastar de Miles Davis. Sempre dou uma dica para as pessoas descobrirem o nome do meu filho – e quem está lendo essa entrevista já sabe o suficiente para responder. Para responder essa pergunta, vou recorrer a ele – e também à pauta da liderança compartilhada. Se você comparar “Kind of Blue” com os discos ao vivo que Miles Davis gravou em 1964, como “Live at Carnegie Hall”, poderá ter uma lição interessante. São músicos diferentes, mas o repertório é parecido – e a abordagem é mais livre, mais aberta. É um disco gravado ao vivo, de maneira que é possível ouvir a contribuição individual de cada músico para a banda de forma explícita.
É uma grande lição sobre como hierarquia e estrutura organizacional não são tão necessárias quanto se pensa. Se há confiança e há pessoas certas num grupo, com um objetivo em comum, é possível fazer praticamente qualquer coisa. Herbie Hancock, que tocou piano nesse disco, conta uma história sobre quando tocou um acorde completamente errado no disco. Mas então Miles Davis se ajustou a esse acorde, tocando uma nota que o fez soar bem. É um momento importante do disco, e que mostra como os indivíduos podem trabalhar juntos. Ao mesmo tempo, é um disco bastante acessível e que traz grandes lições sobre o tipo de colaboração que pode acontecer quando cada indivíduo abraça a responsabilidade de fazer o grupo ir adiante.
As mais lidas