Estudo da Cia. de Estágios mostra que estudantes priorizam flexibilidade e desenvolvimento profissional na hora de escolher uma vaga; entender público jovem é vital para o RH entender futuro das organizações

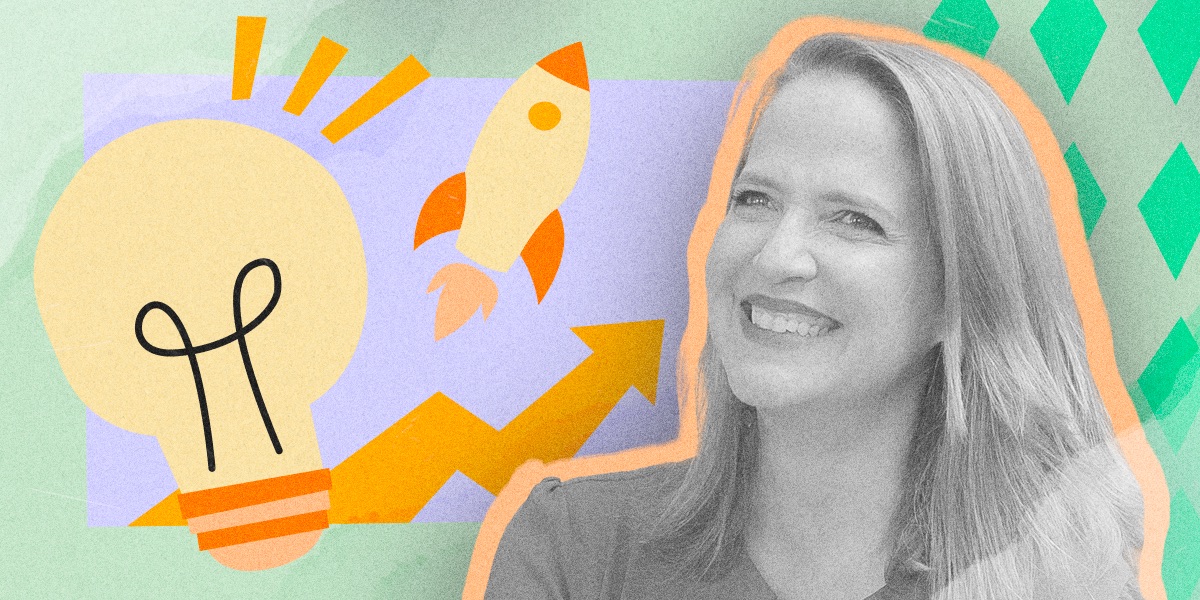
Ela é formada e tem mestrado em Marketing, mas sempre se interessou pelo comportamento humano – e hoje, ajuda empresas de todos os tamanhos a navegar pelo complexo universo da educação corporativa e do desenvolvimento de talentos como vice-presidente de conhecimento e aprendizagem da Fundação Dom Cabral (FDC). “Estou na fundação há 18 anos. Desde o começo, me encantei por toda a complexidade que é fazer gestão e ajudar a ensinar gestão: uma complexidade que tem como elemento em comum as pessoas, a forma como as entendemos e como elas tomam decisões”, conta Paula Simões, que antes de entrar na instituição passou por empresas como Telemig Celular e Leader, além de ter se dedicado no começo de sua carreira às salas de aula.
Ao longo de quase duas décadas na FDC, Paula viu muitas transformações e tendências. Hoje em dia, ela vê três grandes movimentos acontecendo na educação executiva: lifelong learning, personalização e a necessidade de uma visão holística, que considere não apenas o conhecimento puro, mas também sua aplicabilidade e significado para os alunos. “Nosso desafio é levar em consideração tanto a inteligência quanto a afetividade”, diz a executiva nesta entrevista que também fala sobre a diferença entre ensino online e presencial e se é possível ensinar diversidade.
Acredito que hoje vivemos uma era que traz uma cobrança por mudança. É um contexto de desafios sociais e ambientais em profunda transformação, o que muda as organizações, a educação e as pessoas.
Outros temas quentes do universo da educação executiva, como a fronteira de desenvolvimento de tecnologia e a ansiedade do mercado em treinar seus colaboradores, também aparecem aqui, lado a lado com as demandas específicas para CEOs e para companhias que hoje convivem com cinco gerações diferentes trabalhando juntas. “É preciso ter muito cuidado para não generalizar, a despeito das diferenças geracionais, mas sim olhar para os indivíduos, cada um com sua história e seus métodos de preferência”, diz Paula.
É engraçado: tem coisas que só ganham sentido quando a gente olha em retrospecto. Originalmente, eu sou da área de marketing, fiz graduação e mestrado na área, mas, desde a escolha da faculdade, o aspecto que mais me interessava no marketing era o comportamento humano. Estou na Fundação há 18 anos, e desde o começo me encantei por toda a complexidade que é fazer gestão (e ajudar a ensinar gestão) – uma complexidade que tem como elemento em comum as pessoas, a forma como as entendemos e como elas tomam decisões.
Mas, vamos lá: antes da Fundação, eu tive empresa própria e passei por grandes empresas. Uma delas foi a Telemig Celular, na qual eu pude me envolver com o momento rico da privatização da telefonia no Brasil, que nos trouxe uma mudança profunda no jeito de fazer e pensar aquele negócio. Ali, fui responsável por criar um dos primeiros programas de fidelização de clientes no Brasil. Depois, fui para outro negócio totalmente diferente, no B2B, que era a Leader, uma empresa de aviação executiva com oito ramos de negócio diferentes – de fretamento a seguros, passando por manutenção e atendimento.
Em paralelo a isso, eu mantinha uma carreira acadêmica como professora de marketing, e foi aí quando tive contato com a Fundação. Estando de fora, mas tendo colegas próximos trabalhando aqui, me chamava a atenção o quanto o resultado final era tão importante quanto o meio para atingi-lo na Fundação. Isso me atraiu, de maneira que em vez de ter a vida acadêmica como segunda atividade, trabalhar na FDC virou a minha atividade – até porque ficou difícil conciliar um papel executivo, de viajar para atender grandes clientes, com a sala de aula. Como estar no ambiente da escola já me satisfazia, decidi virar uma pessoa de gestão full time.
A primeira mudança marcante é o amadurecimento desse processo dentro das organizações. Antes, acho que o sistema funcionava por tentativa e erro, numa transferência não sistemática do aprendizado. Hoje, já vejo as organizações mais preparadas para essa interlocução – o que significa que nós, como escola, precisamos estar mais preparados também. Existe um entendimento do papel estratégico, da execução, dos interlocutores, de tudo. Além disso, há um avanço tecnológico – quando cheguei à Fundação, a gente não tinha smartphone, e olha o que essa pequena invenção trouxe na nossa vida. Acredito que hoje, além disso, vivemos uma era que traz uma cobrança por mudança, pelo questionamento do conhecimento, comportamentos, valores e crenças. É um contexto de desafios sociais e ambientais em profunda transformação, o que muda as organizações, a educação e as pessoas.
Há uma que é ponto pacífico: lifelong learning. Pelas mudanças de contexto e pela evolução demográfica que acontece hoje, não há mais espaço para quem não se manter continuamente aberto, olhando para o contexto e buscando avançar na capacidade de lidar e influenciar esse contexto. É uma tendência que se conecta também com outra, de personalização: à medida em que se entra no detalhe de cada mercado e vê que todas as faixas demográficas estão ávidas por avançar, isso cria diferentes demandas para nós. Temos de ser capazes de ajustar métodos, o nível de complexidade e de abstração dos conteúdos, bem como as tecnologias e as formas de dar acesso a essa educação.
Particularmente, a tecnologia traz essa possibilidade de adaptação para a personalização. Nós, como Fundação Dom Cabral, sempre fomos muito reconhecidos pela capacidade de customizar nossos cursos para organizações de grande, médio ou pequeno porte, porque entendemos o contexto do cliente. Mas a tecnologia nos permite fazer isso numa escala de ajustes a nível individual, como nós fazemos hoje com o Tracker, uma solução educacional nossa capaz de desenhar uma trajetória de desenvolvimento para cada indivíduo, dentro de uma viabilidade econômica e uma possibilidade de escala.
Além de lifelong learning e personalização, vejo uma terceira tendência: a necessidade de olhar para o indivíduo e para as organizações de maneira holística. Não adianta mais desenvolver apenas o conhecimento: tem que desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, mostrando como o conhecimento vai ser usado. No ambiente mais complexo em que a gente está, empresas que não adotam essa postura sistêmica têm chances de fracasso maiores. Tudo tem de estar presente o tempo todo.
A gente de fato se vê nesse lugar e buscamos caminhar passo a passo com o nível de responsabilidade e consciência necessários para quem está no papel de educar. Nós assumimos uma hipótese, entregamos, verificamos se ela gera valor, ajustamos e avançamos. Ao olhar para uma tecnologia como inteligência artificial, nós fazemos várias incursões para entender o que é, para o que serve… e buscamos aprender junto com as organizações. Descobrimos as potencialidades em conjunto e trazemos também o senso crítico, que é o nosso papel. No caso da inteligência artificial, de novo, nós já conseguimos oferecer algumas vivências de sala de aula em que os alunos podem experimentar o uso da IA em problemas de negócios. Não é algo que já está disponível para todos os problemas, mas há uma experiência de aproximação sucessiva. Não temos todas as respostas, mas estamos comprometidos com esse caminho.
Há demandas diferentes e níveis diferentes de tolerância ao risco. Temos sorte de ter uma relação próxima com os clientes. Em problemas de fronteira, os profissionais nos veem como parceiros para descobrir e explorar. Já os problemas tradicionais, buscamos entregar no nível de solução segura. Ainda nesse campo de tecnologia, tem núcleos de geração de conhecimento, como de inovação e transformação digital, em que as empresas se reúnem numa comunidade para trocar conhecimento para o que existe de fronteira naquele campo. No campo da tecnologia, nós já temos um programa de transformação digital que endereça questões de IA no status quo, mas para quem quer descobrir inovações de fronteiras indefinidas, também temos uma solução.
Vejo uma simultaneidade entre a busca por agilidade, na capacidade de se adaptar e responder às transformações, e a clareza de que não é só essa agilidade que vai trazer resultados. Não é só fazendo algo na prática que você aprende; há erros e acertos de gerações inteiras que podem servir como um trampolim para quem quiser cometer erros e acertos, sem precisar aprender tudo do zero. Hoje, vejo a valorização do conhecimento num formato tradicional, desde que associado com iniciativas que tragam personalização e agilidade. Não vejo RHs comprando a ideia de que só erros e acertos acelerados vão gerar resultado necessário para desenvolver um time, um corpo amplo de pessoas. Seria uma simplificação muito arriscada. Mas é inegável essa demanda por flexibilidade, a ponto de termos criado programas online assíncronos e também híbridos, em que há sincronicidade entre o online e o presencial, ao gosto do aluno.
É fato: todos nós vivemos a experiência de precisar reaprender a fazer nosso trabalho sem o componente presencial. Há alguns elementos difíceis de reproduzir no mundo online, como o aspecto casual, a sincronicidade das coisas, a serendipidade de esbarrar com alguém. Mas havia coisas que a gente achava desafiadoras de fazer no online e funcionam bem: promover engajamento, imersão no conteúdo e até mesmo tratar questões mais subjetivas. Formar um grupo e discutir algo que foi proposto em plenária, por exemplo, é até melhor no online que no presencial. E a gente também não pode cair em generalizações: nós acabamos de lançar a graduação para um público majoritariamente jovem e ávido por tecnologia… e descobrimos que eles querem aulas presenciais, querem a mão na massa. É preciso ter muito cuidado para não generalizar, a despeito das diferenças geracionais. É preciso olhar para os indivíduos, cada um com sua história e seus métodos de preferência. Nosso papel é criar oportunidades de aprendizado que respeitem a diversidade para múltiplas gerações e objetivos de desenvolvimento.
É interessante você tocar nesse ponto, porque vale exercitar outra perspectiva: o CEO de uma média empresa pode não afetar tantas pessoas quanto o CEO de uma grande corporação, mas a decisão dele é muito mais imperativa para o sucesso da companhia. Ele divide menos a responsabilidade com outras pessoas, geralmente não há tantos especialistas assim. Independentemente do porte da empresa, CEO é CEO. E quando a gente pensa os cursos e produtos para eles, sempre falamos de uma visão sistêmica. Um CEO tem que entender várias dimensões: para dentro, para fora, para a sociedade, entendendo contextos, recursos, mecanismos e áreas funcionais.
Hoje, temos o Programa de Gestão Avançada, que vai olhar para os aspectos de estratégia e gestão, necessários na forma desse executivo gerir. E temos CEO Legacy, uma iniciativa para facilitar a troca entre líderes, trazendo métodos, ritmo, focos diferentes, numa rede poderosa. Ali, ele vai olhar mais pros aspectos da sociedade e preocupado em construir legados relevantes. São diferentes aspectos, mas que têm em comum essa necessidade de uma visão sistêmica, de toda a organização.
Não é um desafio muito diferente do que as escolas e os educadores vivem a todo tempo. Temas de tecnologia trazem desafios por tudo que a gente falou, relativos à recência e os potenciais ainda não descobertos. Mas esse é um desafio que vale também para um tema antigo, como estratégia, que interessa gente de 20 ou de 70 anos. É um desafio que também leva em consideração a posição, a responsabilidade e as interlocuções que essa pessoa tem na vida organizacional, nos papéis que ela exerce na empresa e na sociedade.
A questão geracional é uma camada de desafio, à medida que a gente não pode rotular todos os indivíduos, mas é natural pensar que indivíduos de uma certa idade representem a média do comportamento. De maneira geral, creio que o desafio é humano, buscando compreender as perspectivas que as gerações têm, as referências que elas trazem e a forma como cada tema tenha valor e significado para eles. Nosso desafio é fazer qualquer tema ter significado para as diferentes gerações. É um desafio de acolhimento, de gerar significado em conjunto – e para isso, é preciso levar tanto em consideração a inteligência quanto a afetividade, sem perder o rigor científico e a aplicabilidade. E precisamos ao mesmo tempo conciliar o desempenho com o progresso social – articulando o resultado de um tema para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso jeito.
Acredito muito no desenvolvimento das pessoas – e se não acreditasse, não trabalharia com educação. Talvez não dê para ensinar diversidade, mas dá para aprender. Na nossa experiência, tem que ter abertura e tem que ter desejo de avançar, de aprofundar, de se abrir para novos caminhos e entendimentos. Não dá para pregar para uma parede, é preciso ter o protagonismo do lado do aluno. No caso da diversidade, é preciso de um letramento: precisamos saber do que estamos falando e quebrar alguns enganos, mitos, desconhecimentos que dificultam o avanço da conversa. É preciso ampliar a visão de mundo, senão as pessoas ficam presas nas suas perspectivas únicas, achando que ela é a verdade.
Ao mesmo tempo, nós temos buscado avançar como Fundação: entre 2021 e 2024, tivemos um aumento de 150% de professores que se declaram pretos e pardos, chegando a 200 profissionais – 12,5% do corpo docente ativo da Fundação Dom Cabral. É um número acima da média brasileira – um estudo do Instituto Serrapilheira mostrou que pretos e indígenas são 7,4% dos professores de programas de especialização nas áreas de Exatas e Biológicas. No caso das mulheres, chegamos a 35% do quadro docente em 2024, contra 32% em 2021. Mas sabemos que ainda é pouco: quando a gente coloca em percentual parece um número impressionante, mas ainda tem muito chão pela frente.
Vou recomendar o livro Biografia do Abismo, de Felipe Nunes e Thomas Traumann. É uma leitura instigante que traz dados e uma explicação fundamentada sobre a polarização Lulanaro, abrindo os nossos olhos para como as diferenças estão se tornando identitárias e moldando relações e funcionamento da sociedade. Muito bom!
As mais lidas