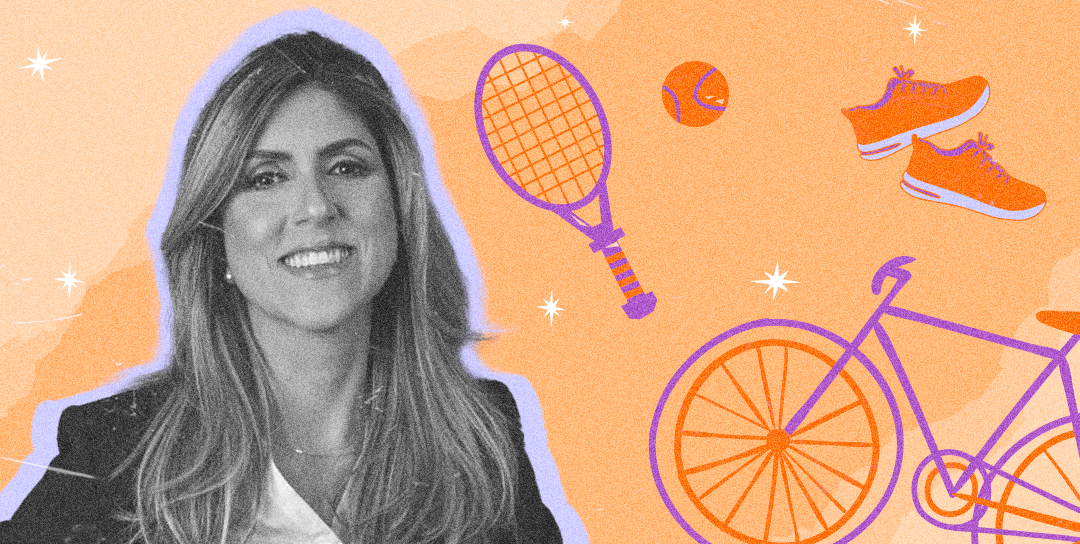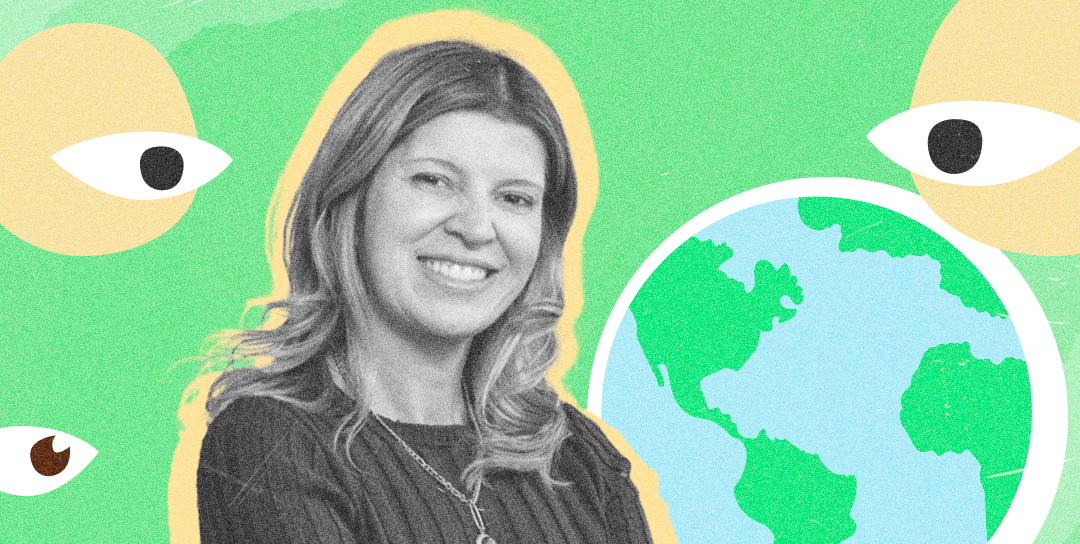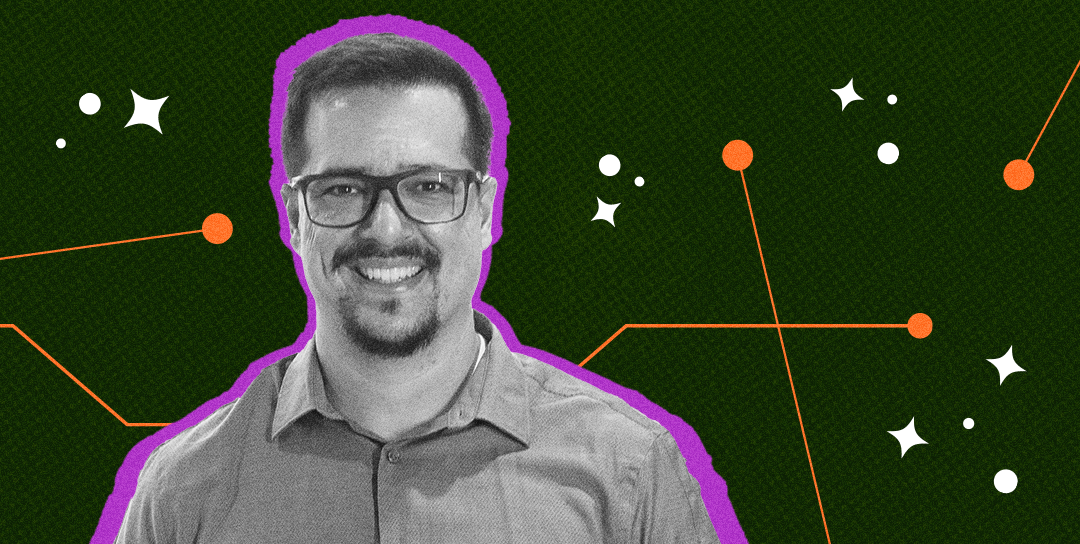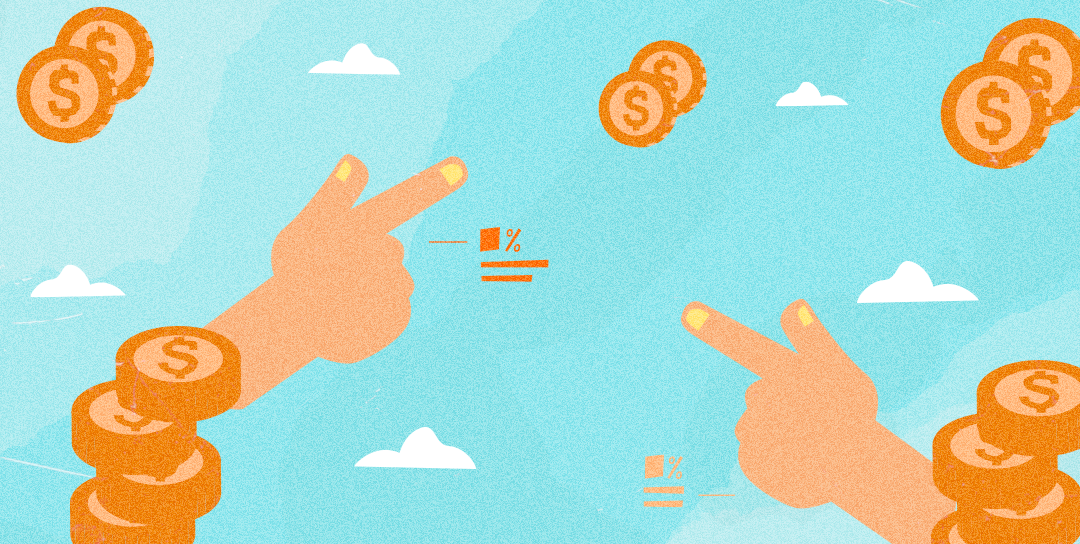Renato Rovina já viu muita coisa no mercado de RH. Também, pudera: quando ele começou sua carreira no setor de remuneração e benefícios, em 1997, o e-mail ainda não era uma ferramenta de trabalho. “Muito do trabalho de pesquisa salarial era feito em cadernos de coleta manuais”, lembra o executivo, que acumula passagens tanto por consultorias como Mercer e Hewitt, tanto por empresas como Vale, Itaú BBA e IRB Brasil. Hoje à frente da área de pessoas do banco francês BNP Paribas no Brasil, ele tem refletido bastante sobre os desafios do presente e do futuro
“Hoje, as atividades estão mudando rapidamente com o avanço da tecnologia, e precisamos entender como as pessoas se sentem ao fazer parte do dia a dia da organização. Penso muito em como criar e manter uma cultura de respeito e inclusão, fomentando uma cultura organizacional saudável, como um banco que quer fazer a coisa certa”, diz Rovina. Em entrevista a Cajuína, ele não só repassa sua trajetória, como também discute a fundo as transformações da área de remuneração e benefícios ao longo das últimas três décadas, para além das diferenças tecnológicas.
“Não mudou a preocupação com custo, mas hoje os benefícios têm que atender a uma gama maior de necessidades, e com isso entra a importância da flexibilidade” afirma o head de pessoas do BNP Paribas.
No papo a seguir, ele fala ainda sobre temas quentes como diversidade, inteligência artificial e revela os temas que devem estar na pauta do RH nos próximos cinco anos: disputas geracionais, custos de plano de saúde e reputação corporativa. “Empresas que não trabalharem na transição energética e em serem melhores cidadãos corporativos vão ter muito desafio em trazer pessoas para os seus quadros daqui a cinco ou dez anos”, projeta.
Renato, você fez Administração na faculdade e desde o primeiro estágio trabalhou em RH. Mas como você descobriu que queria seguir na área?
Eu sempre quis trabalhar: quando entrei na faculdade, já estava procurando emprego e aplicava para tudo que era vaga. Na época, disparei currículo nos quadros de avisos da faculdade e também acompanhei anúncios de jornal. Meu pai sempre procurava emprego pros filhos, pros sobrinhos, e um dia apareceu uma vaga numa empresa de consultoria americana, a Mercer. Mandei meu currículo mesmo sem saber o que a empresa fazia e acabei entrando. Fui alocado no departamento de pesquisa salarial. Ou seja: não escolhi o RH, mas o RH estava na minha lista, que também contemplava marketing e finanças. Na Mercer, tive minha entrada nesse universo, foi minha grande escola técnica de remuneração e benefícios. No começo, eu achava o trabalho muito difícil, nem sabia que as empresas trocavam dados de remuneração para saber quanto ganhava um gerente ou um diretor financeiro. Tive muitas oportunidades legais na empresa e acabei me especializando em remuneração e benefícios, ao ponto de que sair de RH já não parecia um bom plano. Fui convidado inclusive para fazer um estágio fora do Brasil, em um programa de intercâmbio que a empresa tinha como política, mandando brasileiros pros EUA e Canadá e trazendo gente de lá para o Brasil. Tranquei a faculdade, fiquei sete meses em Connecticut e depois voltei pra terminar o curso. Assim que me formei, minha chefe nos EUA me convidou para ir para Miami, porque ela tinha acabado de assumir uma função regional, e por lá fiquei alguns anos até sair para uma consultoria concorrente.
Entrei na Mercer em 1997 e a gente não tinha nem e-mail. Muito do trabalho de pesquisa salarial era feito em cadernos de coleta manuais. Não demorou muito pras coisas virarem eletrônicas, mas o começo foi assim. No trabalho de pesquisa salarial, o primeiro passo era conseguir estabelecer comparáveis. Quando analisamos as empresas, cada uma tem um formato, organização, um modelo de reportes, então era preciso entender as diferenças entre cada uma. As empresas nos contratavam para saber quanto pagar para um gerente financeiro, mas era preciso entender como funcionava o cargo, a descrição do cargo e o que era comparável ou não – e quando a gente entregava o trabalho, era preciso mostrar a comparação entre os desafios das pessoas. Outro aspecto era a quantificação de benefícios, que era essa parte mais manual: além da remuneração fixa e variável ou das ações, você ainda tinha que quantificar benefícios como carro, plano de saúde, seguro de vida, previdência privada. Era todo um trabalho de quantificação, usando fórmulas atuariais, uma fórmula enorme que a gente fazia na mão. No começo achei que nunca ia entender aquilo, mas depois tudo funcionava de forma natural. Fazíamos a quantificação, passávamos pros estatísticos da empresa… e aí entrava o mais bacana: com os dados, conseguíamos transformar as informações em insights, para que as empresas soubessem que atitudes tomar.
Não mudou muito a preocupação com custo: afinal de contas, se a empresa gasta com benefício, ele tem que ser visto como algo de valor. O que vejo é que, no passado, os benefícios eram mais ricos: carro corporativo era mais comum, os planos de saúde eram mais completos, sem coparticipação, e os planos de previdência mais previsíveis. Sinto que as populações mudaram: elas entenderam que os benefícios deveriam funcionar para todos, independentemente da geração ou das escolhas de vida. Hoje, sinto que os benefícios têm que atender a uma gama maior de necessidades – e com isso entra a importância da flexibilidade. Eles já existiam em algumas indústrias, mas hoje são prevalentes, e a flexibilização dos benefícios deu mais poder para os colaboradores hoje.
Hoje, sinto que os benefícios têm que atender a uma gama maior de necessidades – e com isso entra a importância da flexibilidade
Parte do início da sua carreira foi feita nos EUA. Como americanos e brasileiros veem o tema de compensation?
Quando fui pros EUA pela primeira vez, em 2000, o tema da vez eram os programas de stock options, até porque era a época da bolha ponto-com. Tinha muita discussão de stock option ou remuneração com ações, um pay por performance muito acentuado. Havia até algumas maneiras criativas de recompensar com ações, que sumiram com a regulação que veio [após o estouro da bolha]. Mas era muito comum as empresas darem subsídios pros colaboradores comprarem ações, até mesmo fazendo desconto em folha para criação de uma poupança para a compra de ações. Os americanos sempre foram muito ligados em pagamento por performance, enquanto o Brasil foca mais nos múltiplos de salário mensal para remuneração variável. Mas há algo curioso: de maneira geral, entre empresas brasileiras e americanas, as brasileiras tendem até a ser mais agressivas que as americanas, pagando mais no cômputo final.
Depois de uma década em consultorias, você decidiu mudar para empresa e entrou na Vale bem na época da crise financeira de 2008. Como foi esse processo?
Um dos mentores que tive ao longo da carreira certa vez me disse que eu precisava fazer uma escolha no mercado de RH: eu teria que decidir se queria ser consultor para sempre ou se queria mudar “para o outro lado”. Ele dizia que com 20 anos ou mais de consultoria, seria difícil virar gestor de RH, porque eu não teria vivência do dia a dia de uma empresa. Aquilo me martelou por um tempo. Quando saí da Mercer e fui pra outra consultoria, não era o movimento que eu procurava, mas fez sentido na época. Fiquei três anos lá e aí recebi o convite da Vale para fazer parte do projeto de internacionalização da empresa. Apesar da crise financeira, tive muita sorte porque a Vale foi uma super escola. Eu já tinha uma base técnica e a Vale foi a oportunidade de aplicar isso numa realidade de empresa. Em consultoria, você vê uma ponta do processo, mas na realidade das empresas a vida tem começo-meio-fim, de aprovar um projeto até ver os desdobramentos. A consultoria dá input, mas pouco sobrevive do que ela deixa, porque a realidade da empresa se ajusta de outra forma. Cheguei na Vale bem no momento de implementação do modelo de RH no resto do mundo, vendo o que era feito na matriz sendo implementado nas subsidiárias e apesar da crise financeira, foram anos de aprendizado, numa mudança que fez super sentido.
Vou dar um salto aqui para te perguntar: como foi sua chegada ao BNP Paribas?
Saindo da Vale, tive duas experiências de mercado financeiro que foram importantes. Depois, fiz consultoria, queria ser um consultor generalista, mas a vida me deu projetos em remuneração, foi meu forte nesses anos. Até que recebi um convite do BNP, que era visto como um banco diferenciado, menos agressivo que a média, em que a cultura francesa trazia uma cultura de respeito – o que importava depois de vir do mercado financeiro mais tradicional e agressivo. Foi um processo super longo, mas deu certo e assumi pra cadeira de remuneração. E aí, em coincidências da vida, a head de RH saiu na sequência, o que me permitiu aplicar para essa vaga. Eu estava no lugar certo na hora certa, e aí acabei voltando a ser generalista.
Você já tinha passado por cadeiras parecidas antes, mas como é virar CHRO e ser generalista, ainda mais em uma multinacional?
É interessante. Quando a gente olha para temas como especialista, tendemos a ver nossa caixinha de forma profunda, mas isolada. Remuneração não é um tema isolado, porque não cria nem resolve problemas de forma individual, mas ainda assim, a volta para uma cadeira generalista me trouxe riquezas – e pode trazer para qualquer profissional de RH. Dentro de uma multinacional, o desafio é fazer as conexões externas: grande parte das organizações são matriciais e cada tema de RH tem ecossistemas fora do Brasil que cuidam das caixinhas – como remuneração, desenvolvimento, serviços de RH e outros temas diversos. Da minha cadeira local, preciso coordenar esses guias que a gente recebe de fora para que os planos façam sentido para o Brasil também.
O mercado financeiro tem um histórico de baixa diversidade. Além disso, em uma empresa multinacional, cada país tem seu próprio recorte de diversidade. Como é essa discussão dentro do BNP Paribas?
De fato, existem aspectos culturais e demográficos de cada país que precisam ser considerados. Hoje, no grupo, temos um foco global grande em gênero, um tema de diversidade transversal, com grupos de afinidade que apoiam o processo, além do trabalho da liderança de RH com os especialistas. Com a característica demográfica do Brasil, o tema racial também é importante, e aqui podemos trabalhar de forma mais afirmativa na abertura de vagas, por exemplo, com posições apenas para pessoas pretas e pardas. Por conta da legislação específica, o tema de pessoas com deficiência é importante também, além do universo LGBTQIA+. Há ainda um quinto pilar, que a gente tem aqui no Brasil, que é um grupo focado em quebrar barreiras sociais. Além dos marcadores de diversidade, entendemos aqui que sua origem social pode ser um limitador, então temos um grupo dedicado a isso.
De forma ampla, temos programas específicos, uma educação forte da liderança e o reforço por políticas internas. Nossa política de recrutamento exige finalistas diversos nas vagas não-afirmativas, em processos com entrevistadores também diversos. Não basta colocar um monte de homem branco para fazer as entrevistas. É um tema que o BNP leva muito a sério. Não sou especialista em diversidade, mas meu papel é fazer essas políticas acontecerem, buscando aliados. E uma das formas que também atuo é dentro de um programa de mentoria que temos para pessoas com algum marcador de diversidade. Todo ano, selecionamos cerca de 40 pessoas nesse público, porque partimos do princípio que quem tem algum marcador de diversidade pode ter mais dificuldade no mercado financeiro. A regra é que sempre o mentor será mais sênior que o mentorado, e tratamos dos temas de diversidade, mas também de mentoria de maneira ampla. É um programa bonito porque todo mundo aprende muito, seja mentor ou mentorado.
O RH cuida de cada vez mais temas. Como líder, o que te preocupa?
Há temas óbvios, como custos no geral, mas pensando em temas mais transversais, penso muito sobre a criação e manutenção de uma cultura de respeito e inclusão. Não é algo que me tira o sono, mas preocupa. O BNP Paribas é um grupo de 180 mil pessoas, então o risco de ter várias subculturas é grande. Muita gente pode gostar do gestor ou do time, mas não do banco, ou não interagir com a empresa… Então, fomentar uma cultura organizacional saudável é importante. Somos um banco que quer fazer a coisa certa, olhando para ambiental, social e governança, e queremos respeitar os trabalhos das pessoas. Hoje, vemos que as atividades estão mudando, a tecnologia está vindo com tudo, e assim precisamos buscar entender como as pessoas podem sentir prazer em fazer parte do dia a dia da organização, em como usar as políticas de RH como reforço dos comportamentos. E para isso, é preciso escutar as pessoas. É algo a que eu tenho me dedicado bastante, buscando manter o BNP como um banco que atrai e retém talentos.
Precisamos buscar entender como as pessoas podem sentir prazer em fazer parte do dia a dia da organização, em como usar as políticas de RH como reforço dos comportamentos.
Importante você falar em tecnologia. Como o BNP Paribas está vendo a questão da inteligência artificial, tanto em seu uso no RH como no aspecto cultural?
Hoje, no RH, não usamos IA no Brasil. O BNP tem uma preocupação grande com segurança da informação, então o uso de IA em larga escala ainda não é uma realidade – temos projetos em menor escala, para teste, a nível global. É algo que virá, estamos já nos preparando, mas por enquanto está limitado a laboratórios fora do Brasil. Culturalmente, o que a gente busca fazer é trabalhar para a população abraçar a tecnologia. Temos uma área de inovação que interage com startups, temos um trabalho de letramento e até antecipação de ferramentas que viremos a implementar. Existe a preocupação de como a gente vai manter as pessoas habilitadas para trabalhar com as tecnologias, porque virá uma mudança tremenda no dia a dia. Tem várias ferramentas que vão otimizar o trabalho, mas pode fazer com que as pessoas se sintam mais descartáveis, então buscamos muito fazer upskilling e reskilling, com as pessoas “comprando” a tecnologia.
Se essa entrevista acontecesse daqui a cinco anos, que temas a gente estaria discutindo como os mais importantes para o RH?
Vou destacar três pautas. Uma é que a questão geracional vai se acirrar. A geração Z não só vai estar mais presente, como vai alcançar cargos de liderança. Enquanto isso, as gerações X e Y vão precisar trabalhar mais tempo, então vamos viver um desafio de trazer mais pessoas pro mercado de trabalho sem abrir mão de quem está nele há mais tempo. Temos falado muito sobre as pessoas 50+ no RH, e isso vai se intensificar. Outro tema, mais no lado operacional, é o potencial problema que são os planos de saúde. Quando a gente olha para inflação médica, para os custos médicos, questionamos até quando as empresas conseguirão manter esses gastos. É um desafio e isso tira o sono do profissional do RH, até porque hoje o custo de saúde é o custo mais incontrolável das empresas. Para fechar, um terceiro tema é a reputação corporativa, que vai ser ainda mais importante do que é hoje. Empresas que não trabalharem na transição energética e em serem melhores cidadãos corporativos vão ter muito desafio em trazer pessoas para os seus quadros daqui a cinco ou dez anos. Aqui no banco, esperamos continuar do lado certo de fazer as coisas boas pro planeta e para a sociedade, mas quem não mudar hoje vai ter dificuldade de atrair e reter pessoas.
Empresas que não trabalharem na transição energética e em serem melhores cidadãos corporativos vão ter muito desafio em trazer pessoas para os seus quadros daqui a cinco ou dez anos.
Para encerrar, você tem alguma dica de livro, filme ou podcast?
Um livro que eu gosto muito e é leitura obrigatória para pessoas de RH é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele dá técnicas não só de como líderes e liderados, mas também colegas de trabalho podem ter uma comunicação empática, evitando que as conversas virem embates. Temos usado muito esse livro em treinamentos e na nossa manutenção de cultura. Já sobre podcasts, indico o WorkLife, do Adam Grant: ele é um superprofissional de RH e traz entrevistas com CEOs, falando sobre diversidade e inovação. É em inglês e traz uma visão americana, mas dá para aproveitar bastante.